DOIS
I
Perto ou pouco depois de completar quatro anos, em 1989, meus pais resolveram sair do Rio de Janeiro e mudar-se para o interior de Minas. Finda, então, a primeira etapa de minha vida. Começa, portanto, a segunda.
(Percebo que falo como se fosse um vovô a escrever sua autobiografia, mas assumo com satisfação ainda possuir uma vida relativamente breve. Ah, a juventude…)
O novo lar passou a ser Santo Antônio do Monte, uma pequena cidade de vinte mil habitantes localizada a sudoeste de Belo Horizonte, onde viveria dos quatro aos (quase) sete anos. Tudo mudou. Da cidade grande a uma pacata cidade paroquial. Da agitação à tranquilidade completa. Das luzes e prédios a ruas quase desertas. Do apartamento a uma simpática casa tipicamente mineira, em estilo barroco, em uma rua de simpáticas casas tipicamente mineiras. Nova escola, novos amigos, novos colegas, novas namorad… (!) Novo clima.
Sim, sim. Samonte, para os íntimos, fica num planalto, a aproximadamente 950 metros acima do nível do mar. Embora em latitude menor que a do Rio, uma altitude nesses patamares é suficiente para manter as temperaturas máximas entre 22 e 30 graus. Em média. E as mínimas entre 10 e 18. Agradável. Como a maior parte das Minas Gerais.
II
Lembro-me de toda a casa. Cada centímetro. Devia ter uns 150 metros quadrados. Tinha um formato retangular, estendendo-se para os fundos. Olhando-a de frente, a fachada era composta pela garagem, ao lado direito, da janela da sala, ao centro, e da janela de um dos cômodos, à esquerda. Entrava-se pela garagem; a porta localizada em seu canto esquerdo conduzia à sala. A sala era retangular e ampla. Era dividida pela metade por um sofá central, que separava a área social, em frente à janela, da área da TV, na parede oposta. Uma porta conduzia ao cômodo frontal, à esquerda. Fizeram dele o escritório de trabalho, povoado por uma mesa posicionada em frente à janela, três cadeiras e uma estante, que ficava na parede oposta.
Na mesa residiam os três únicos computadores da cidade. Ou melhor, da microrregião. Ou de todo o centro-sul de Minas. Eram computadores Intel 8066, com aqueles disquetões pretos de cinco polegadas e monitores monocromáticos de letreiros esverdeados, sem interface gráfica.
Meus pais trabalhavam com informática e abriram uma microempresa de software, a primeira da cidade. Pessoas vinham à nossa casa ver aquela máquina futurista chamada computador. Mas não deu muito certo. Afinal, poucos precisam de softwares quando ninguém sabe o que é um software. Assim, antes de produzir aquilo para que estavam treinados, meus pais teriam de produzir as condições de sua própria venda. Teriam de construir a demanda, para que pudessem vender a oferta. Teriam de mostrar a interioranos as vantagens da informática. Bem. Mission Impossible.
Voltemos à casa. O corredor que conduzia ao seu interior ficava na ponta esquerda dos fundos da sala, ao lado da estante de TV. Os quartos posicionavam-se do lado esquerdo do corredor. O primeiro era dos meus pais, aproximadamente no meio, o segundo, ao final, e já na extremidade da casa, era o meu. Eram bons quartos. Meu quarto dava direto na copa, que conduzia à cozinha, à direita. A casa tinha um quintal amplo, acessado pela cozinha. Ele ficava rebaixado em relação à casa – uns bons três metros, sendo necessário descer por uma escada de cimento, junto à parede externa. A área de serviço ficava separada da casa, embaixo, no quintal. Havia dois tanques amplos em seu interior e um terceiro no canto esquerdo do quintal; bastante profundo aliás, e coberto por cimento rústico. Este tanque mudaria minha vida. Mas não falaremos disso agora. O quintal tinha formato de um L tombado para frente, como se abraçasse a casa.
Meu quarto tinha um beliche. É, eu não tinha irmãos, mas tinha um beliche. Fiz questão. Eu queria um irmão, então já preparei o terreno com o beliche, assim jogando pressão sobre papai e mamãe. Enquanto ele não vinha, sentia-me dentro de uma nave espacial. Dormia sempre na parte debaixo, fazendo do nível superior o meu deque especial. Subia lá somente em situações especiais, como quando brincava de capitão da Enterprise ou contava lucros. E sentia-me protegido com ele. Eu não gostava de ficar olhando para o teto, sempre vago e vazio. Meu quarto não tinha mesas de estudo, apenas estantes de brinquedos e um armário. Eu fazia a lição de casa na sala, onde me inspirava com a amplitude do espaço e a proximidade com a porta de saída, para onde cedo ou tarde sairia em busca de aventura.
O fato de estudar na sala gerou uma predisposição a ficar pouco no quarto, usando-o somente para dormir. E brincar, quando enxotado da sala. Assim, demorei a desenvolver a noção de um espaço específico dedicado à minha intimidade. Ela estava dispersa por toda a casa. Do quintal à garagem. Inclusive o quarto dos pais, que eu usava para ver TV quando a sala já estava ocupada; especialmente à noite, quando passava Carrossel, no mesmo horário do jornal. Ou O Exterminador do Futuro.
(Eu gostava tanto do Exterminador que imitava o corte de cabelo arrepiado do Arnold Schwarzenegger. Achava-o simplesmente demais. Era meu grande herói, lado-a-lado com o Batman, o Robocop e o Ayrton Senna.)
O único país fora de meus domínios era o escritório, e mesmo lá empreendia campanhas esporádicas, conduzindo minhas tropas em tentativas frustradas de conquista dos computadores. Minhas forças não eram páreo para as falanges de papai e mamãe combinadas.
Adorava os computadores. Nasci e cresci entre eles. Ia até o escritório para jogar joguinhos. Tinha um de nave; devia ser Space Invaders. Apesar disso, os micros eram tratados como instrumentos de trabalho apenas, e assim mantive-me relativamente afastado deles durante meus dias em Minas. Aos cinco anos ganharia um Atari 2600 de presente, e assim o foco se deslocaria para o videogame. Embora passasse a maior parte do tempo fora, explorando os mundos das redondezas.
III
Sim. Eu era uma peste. O pestinha pareceria da comunhão calvinista perto de mim.
Ostentava cinco ou seis anos de vida, mas minhas andanças contemplavam todos os quatro cantos da cidade. Minha mãe insistia (insiste) que eu era mais conhecido que ela e meu pai juntos. Meus aniversários eram tão populares que mal se podia caminhar dentro de casa, tamanha a quantidade de pestes, digo, crianças pelo caminho. Eram temáticos, cada um dedicado a um super-herói. O predileto era o Batman. No Rio, aos três anos, minha mãe levara-me para ver Batman, no cinema. O primeiro, dirigido pelo Tim Burton, com o Michael Keaton no papel principal. (Sem dúvida o melhor; mas Batman Returns não fica muito atrás. Pinguim rox.) A cena final do Batman erguido sobre uma gárgula obscura, no topo de um prédio gótico monumental, olhando para a insígnia do morcego refletida nas nuvens do céu noturno, ficaria guardada para sempre em minhas memórias. Ao ponto de mais tarde pedir e ganhar uma fantasia de presente, e agitar a cidade achando-me o homem-morcego.
Nem todos conheciam nossa empresa de informática, mas seguramente conheciam o Fernando. Certamente não como um santo.
Minha obra é vasta. Abduzia os filhos de mães preocupadas e arrastava-os a redutos inóspitos. Levava-os até lagoas para caçar girinos. (Eu criava girinos na lavanderia de casa, nos fundos do quintal.) Invadia casas abandonadas para explorá-las, encontrar tranqueiras e brincar de polícia e ladrão. (Eu sempre era o Robocop.) Entrava em prédios em construção no crepúsculo, atrás do que havia nas sombras e nos montes de areia e tijolos. (Isto é, areia e tijolos.) Descíamos morros de bicicleta. Certa vez levei um menino de três anos; isto é, recém-saído da bebezisse, com o perdão do solecismo; a uma região de morros arenosos, para descer de triciclo a mil e um por hora. Eu descia com minha bicicleta e ele me acompanhava de triciclo. Não me lembro ao certo se ele chegou a se espatifar. De todo modo, o fato gerou comoção popular e apelos de mães desvairadas.
Corria até a padaria do seu Quin Quin. Ficava umas sete ou oito quadras acima de casa, subindo o morro de inclinação suave. Ou seja, longe para os padrões Samontianos. A cidade era toda erguida sobre um relevo ondulado, então “subir” e “descer” eram as instruções cardinais mais importantes que alguém poderia dar ou receber.
A padaria do seu Quin Quin era imensa e parecia um mundo em si mesmo. Na verdade, não era uma padaria somente, mas uma fábrica de pão. Era um casarão vasto, de estilo barroco, com a altura de uns três andares, repleto de janelas altas e esguias. Chegava-se até ele por uma longa escada de degraus compridos de cimento cru, sempre empoeirados. Tinha as paredes rústicas, de pintura branca granulada. No átrio vendiam-se dúzias e mais dúzias de pão (embora sempre o mesmo pão) e centenas de rosquinhas de polvilho.
Rosquinhas de polvilho! Meu primeiro objetivo na padaria do seu Quin Quin: comer rosquinhas de polvilho. Mas dificilmente as comprava. Ganhava. Os Quin Quin adoravam minha família, e, por algum mistério natural, também gostavam de mim. Estranho, afinal, frequentemente não me contentava com as rosquinhas e invadia os fundos, onde ficavam as máquinas de fazer pão, de cubas rústicas de ferro maciço e amassadeiras giratórias, cobertas de farinha. Era um galpão imenso, repleto dessas máquinas. Então, eu andava por elas catando restos de massa de pão. Delícia! Invadia a padaria do seu Quin Quin e refestelava-me de rosquinhas e pão cru.
Adorava sair e não reconhecia direito a fronteira entre minha casa e a cidade. Entendia que minha casa era o porto-seguro em uma imensa malha de mistérios a se explorar. Zarpava com minha própria Enterprise cosmos adentro, retornando ao porto para descansar, no fim do expediente. Eu era e precisava ser livre. Precisava de espaço e vastidão. Precisava de labirintos, esconderijos e fortalezas. Eu era do mundo, e precisava que o mundo fosse o meu lar.
IV
Aram Kachathurian. Spartacus. Ato I: Adagio de Spartacus e Phrygia.
Tudo em Samonte me fascinava. Cada esquina, cada morro, cada riacho, cada esconderijo, cada passagem sinuosa, cada casa abandonada, cada sítio de construção, cada ponto no horizonte. E o trem. Ah. O trem.
Cortava a cidade uma movimentada linha de trem. Quase diariamente, corria até a padaria do seu Quin Quin, que ficava em frente aos trilhos, para ver o trem passar. Sentava-me na base das longas escadas para ficar bem próximo, o mais perto possível. (Imagine só o desespero da mamãe.) O local tinha aquele cheiro de graxa e metal queimados. Que me suscitava o trem; sendo por isso adorado.
Meu interesse por trens e seus trilhos se dava por todo o mistério associado à sua grandeza. A sirene cujo volume preenchia a cidade inteira. O poder de anunciar a todo e qualquer um que ele estava chegando. Conduzido pela imensa locomotiva vermelha, capaz de arrastar vigorosamente dezenas de toneladas de ferro. Sim. Ferro. Metal. Trilhos. Engrenagens. Combustível. Fumaça. Força. Potência. Eficiência. Resiliência. Grandeza. Tais eram os elementos suscitados em minha mente e que exerciam tanto fascínio, além do mistério do que havia dentro de toda aquela maquinaria sem fim. Na onírica mente infantil, certamente não apenas engrenagens movidas a diesel.
Os trilhos não eram menos importantes. Em primeiro lugar, eram a marca perpétua da glória do trem. Aquele sinal persistente que anunciava a todo instante: estou chegando. Os trilhos, portanto, significavam um prolongamento do trem, gerando-me uma intensa e permanente expectativa. Em segundo lugar, não sabia de onde vinham ou para onde iam. Os trilhos estendiam-se até o horizonte. Ao infinito. E sempre quis descobrir o infinito. Os trilhos me desafiavam. Então, eu os investigava, caminhava e corria por eles, tentando descobrir seus limites. Às vezes, imaginava que encontraria um buraco negro no fim da linha. Ou que seria transportado para outra dimensão. E que nela seria um andarilho intergaláctico, dono de meu próprio caça espacial.
A empreitada era às vezes perigosa, pois em alguns trechos o caminho passava por entre elevações íngremes de terra vermelha, como trilhos atravessando um desfiladeiro. Restando, portanto, pouquíssimo espaço ao redor. Se o trem resolvesse visitar-me logo ali, estaria em apuros. Mas esse risco me fascinava ainda mais. E o ambiente me fascinava ainda mais. A trilha e seus trilhos faziam curvas sinuosas entre as paredes de terra que pareciam estender-se até as nuvens. Sim, eu estava num caminho de outros planetas. Via e caminhava sobre os trilhos e sentia temor ardente e absoluta veneração.
Bastava o soar da sirene, e lá eu estaria. Correndo, depressa, tropeçando, encantado, calçado, descalço. Em minha mente infantil, o trem era parte de mim, e eu era parte do trem.
V
Santo Antônio do Monte era uma cidade paroquial cuja economia baseava-se e dependia da indústria de fogos de artifício. E, que Mônada não me ouça: contribuí sobremaneira para alastrar os domínios (e os bolsos) dos barões da pólvora.
Como adorava bombinhas. Mas não os estalinhos. Estalinho não é bombinha. Estalinho é coisa de neném. Qual a graça em estalinho? Apenas são jogados no chão para produzir um estalo inofensivo e, com sorte, uma centelha minúscula. Tec, tec. A imagem arquetípica do estalinho é uma menina de três anos vestindo roupão branco com touca, cambaleando ao andar, distribuindo estalinhos pelo chão. Tec, tec. Numa festa de São João. Tec, tec. Balançando desengonçadamente o braço e abrindo todos os dedinhos das mãos, arremessando uma meia-dúzia de estalinhos de uma só vez. Tec, tec. E rindo com aquela voz entusiasmada de neném. Tec, tec. Que tosqueira, meu deus. Tec, tec, tec. Aliás, estalinhos são obscenos e impróprios para crianças, pois parecem espermatozoides. Tec.
Nós, os machões, estourávamos bombinhas. Tinham dez ou doze centímetros de comprimento e seu corpo era de papelão cilíndrico reforçado, que guardava a pólvora. O elemento fundamental que as distinguiam dos estalinhos era a presença da pólvora, isto é, do risco. Nos regozijávamos ao acendê-las e sair correndo de perto. Faziam barulho, ardiam e produziam estrago suficiente para impressionar a meninice.
O objetivo consistia em descobrir as formas mais espetaculares de estouro. “Espetacular” sintetiza “pirotécnico”, “espalhafatoso” e “perigoso”. É. É preciso confessar. Provavelmente explodi meia Santo Antônio do Monte. Meu maior experimento foi estourar bombinhas nas mãos. Segurávamos a bombinha pela beirada, com o dedão e o indicador. Havia resto de papelão enroscado na extremidade, o que permitia que as segurássemos sem tocar no compartimento de pólvora. (Mônada seja louvado!) Depois de consumada a tolice, os dedos permaneciam no lugar (ainda bem), mas ficavam latejando por uns dois dias. Por alguma razão, não ficavam (muito) queimados. Só chamuscados. Um pouquinho. Ou nem tanto. Bem, você entendeu.
Felizmente, nunca tentei estourar bombinhas com as mãos fechadas. (Por isso ainda tenho as mãos.) Mas provavelmente não o fiz porque o acendedor arde em chamas antes de atingir a pólvora. Isso queimaria as mãos antes da bombinha explodir. Assim, era obrigado a estourá-la segurando pela beirada. Graças, Mônada. Graças. Por isso e por nenhum trabalhador entediado ter colocado o dobro de pólvora numa das bombinhas que explodi em meus dedos. Pelo bem deles – e consequentemente deste blog.
VI
Bombinhas eram legais, mas minha principal paixão em matéria de bens de consumo eram álbuns de figurinhas. Desde cedo fui um colecionador nato. O mundo me fascinava e eu queria abraçá-lo por completo. Ter tudo. Sentir tudo. Incorporar tudo. Alcançar a totalidade. Não o pensava, não o sabia, mas já o fazia. E eu obrigatoriamente tinha de conseguir.
Os principais eram os álbuns daqueles espetaculares seriados japas de TV, envolvendo robôs gigantes, canhões de plasma, roupas coladas e coisa do tipo. Tokusatsu, no jargão oficial. Sabe? Sim, você sabe. Todo terráqueo sabe. Jaspion, Changeman, Kamen Raider, Jiban, Jiraya. Descendentes do National Kid e do Astro Boy. Alimento para a mente infantil. Jaspion era o meu predileto. “VENHA A MIM, PODEROSO DAAAAAAAILEON!!!” Daileon! Ahá! Que demais!
(Aliás, tenho aqui a música-tema do Daileon, entre minhas dezoito mil músicas.)
(Olhando assim retrospectivamente devo assumir, com muito pesar: que tosqueira, meu deus.)
Lembro-me do episódio em que o Daileon morreu. Fiquei chocado e introspectivo por uma semana. É claro, ele ressuscitou depois, fazendo-me pular de euforia pela seguinte. Jaspion era seguido de perto por Changeman. Meu changeman predileto, claro, era o vermelho. Obviamente, o vermelho era o líder. Mas eu era apaixonado pela rosa. Nunca gostei da amarela. As amarelas sempre foram meio marimacho. Assim como o amarelo é algo entre o azul (macho) e o rosa (fêmea), mas mais próximo do rosa. Logo, a amarelo era uma fêmea afeminina. Já a rosa, não. Era doce e delicada, embora forte quando necessário. Como as mulheres devem ser. (Que as feministas não me ouçam.) Coincidência ou não, o par romântico da rosa era o vermelho.
Mas os prediletos dos prediletos eram os álbuns de história natural. Além dos filmes, eram minha janela para o mundo.
Certo dia, comprei um álbum sobre o mar e os animais que o habitam. Fotos fantásticas, bichos fantásticos, paisagens fantásticas. Cromática azul, simulando a profundidade marina. Aquelas fotos pareciam saídas das expedições de Jacques Cousteau. (Que o grande oceano o abençoe.) A beleza do álbum era tanta que chegou a receber a apreciação da mamãe. Durante alguns meses, parte de minha vida gravitou em torno daquele álbum. Estava quase completo, quando foi descontinuado. Não era popular. A vendedora da única banca de figurinhas da cidade disse-me que vendia pouco. Que eu era o único a perguntar por suas figurinhas. Que se eu quisesse completá-lo, teria de ir até a central de distribuição, em São Paulo.
E eu fui.
Precisava conseguir. Precisava completar o álbum. Insisti com a mamãe. Depois de duras negociações, concordou em irmos até a central da Panini e comprar as figurinhas faltantes, aproveitando a visita aos familiares. Claro. O fato de tratar-se de um álbum com a aprovação materna e de termos família em Sampa facilitou minha vida. Caso contrário, provavelmente não conseguiria. Se fosse álbum do campeonato brasileiro, as lágrimas seriam certamente o meu destino final. Embora eu não fosse chorar por futebol.
Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Desde que saímos da microscópica rodoviária de Samonte, até o mundo em si mesmo do TERMINAL RODOVIÁRIO TIETÊ. Pegamos o metrô, linha azul, depois a vermelha, e fomos até Santa Cecília. Encontramos a vovó e deixamos nossas coisas na suíte do terceiro andar. Vovó morava num tríplex imenso, que, de fato, era um labirinto. E, por isso, o adorava.
Aquela espera foram os minutos mais longos da tenra infância. Almoçaríamos antes de sair, mas passei o tempo todo olhando para as longas cortinas e os quadros viscerais expostos na sala. Sim, aqueles quadros também são impressões queimadas em minha memória. Ambos eram imensos; deviam ter um metro e meio de largura por um de altura. Um deles trazia Dante cortado pela metade, estirado sobre terra batida, semiapoiado sobre o braço direito, estendendo a mão esquerda para alguém, com uma impressão forte em sua face. De seu ventre despejavam-se granulados, que devem ter algum significado em alguma religião. Seu tema cromático era o marrom e o dourado. O outro quadro era a Santa Ceia. Dante me impressionava mais, mas temia igualmente a Ceia. Assim como sempre temi as coisas da religião.
A sala era meio obscura, como os quadros. Cortinas sempre fechadas. Ultimamente reparei que os velhos de descendência europeia dificilmente deixam as janelas e as cortinas abertas. Gostam de móveis escuros, salas escuras, coisas escuras; talvez da própria escuridão. Bem, eu serei um velho diferente. (Espero.) Vou tocar guitarra e cantar Rock’n’roll Star. Quem viver, verá.
Fiquei calado, consumido de expectativa. Então, lembro-me de caminhar entre um mar cinzento de prédios e sentir o forte cheiro de fuligem das ruas paulistanas. O cheiro de enxofre. Desde então, São Paulo passou a ter esse cheiro pra mim. Ele não é mais um cheiro somente. É a própria imagem e sensação da cidade em si.
Lembro-me de olhar para o rosto de minha mãe – que ainda parecia um gigante – e de receber um sorriso como resposta. Embora estivéssemos cansados. A calçada parecia não ter fim. Encontramos a central da Panini, que era um galpão imenso e assustador de máquinas e escritórios. Como toda São Paulo, era cinza e fuliginosa. Encontramos o responsável pela distribuição das figurinhas e minha mãe conversou com ele. Sua surpresa deve ter sido do tamanho daquele galpão. De fato, o álbum fora nacionalmente descontinuado. É, a criança brasileira não queria mesmo saber de história natural. Eu trazia o álbum em mãos, e mostrei ao senhor as figurinhas que faltavam. Ele então desceu uma longa escada – ficávamos numa passarela elevada no topo do lado direito do saguão – indo até o estoque, na parte inferior. E voltou carregando as figurinhas que faltavam. Missão cumprida. Que emoção. Puro deleite e emoção. Ali, havia completado o álbum da minha vida, meu segundo grande objetivo, depois do videocassete.
* * *
Meu álbum tornara-se meu orgulho pessoal. Mostrava-o para qualquer um com quem travava contato. Estando completo chamava as atenções, pois não havia nada igual. A beleza do mar e os animais exóticos fizeram-no a sensação da escola.
Então, certo dia fui convidado para o aniversário do filho do barão da cidade. Sim, do dono das indústrias de pólvora que empregava, isto é, explorava dois terços dos samontianos. Não cheguei a vê-lo. Digo, o Barão. Era um reles mortal, e os reles mortais só servem à nobreza como plateia de seus espetáculos.
Apenas corria pela mansão. Lembro-me do imenso pátio principal e seus azulejos vermelhos, onde o grande patriarca dava seus bailes. Nele, saquei meu álbum em uma das mesas e deixei que amigos e conhecidos o folheassem, prestando conhecimento da beleza do mar. E, claro, do fato de eu ser o único a possuí-lo.
Egocêntrico, mas ingênuo, cometi o erro de deixar o recinto. Então, algum tempo depois, meu melhor amigo procurou-me ofegante, transmitindo a notícia da tragédia. Haviam rasgado meu álbum. O choque não me permitiu acreditar. Atônico, corri até o pátio, onde uma agremiação de crianças seguravam os restos de suas folhas.
Ao vê-lo aos pedaços, parte de mim morreu. Fui acometido por uma sensação de morte. Sufocamento. Rancor. Ódio profundo. Uma menina então me informou o responsável: o filho do Barão. O Príncipe. Sim. É claro. Não poderia ser diferente.
Johann Sebastian Bach. Jesus bleibet meine Freunde.
Um álbum de figurinhas havia ameaçado a hegemonia da realeza. A coisa plebeia brilhou no meio da multidão e desviou as atenções do palco. O suficiente para estourar o já previamente inflado ego do ator principal. Sentindo-se ameaçado, o Príncipe buscou reafirmar seu território e, como todo conquistador, empreendeu contra a causa das perturbações. Provavelmente deu falta de algumas crianças na sala principal, e percebeu (ou fora informado) que estavam no pátio. Meteu-se entre elas e identificou a causa do mal. Com o apoio tirânico de sua posição de autoridade, tomou o álbum, despedaçou-o ali mesmo e deixou o campo, cheirando a vitória.
Ah. Que ultraje.
Ouvis nos campos rugirem
Estes ferozes soldados?
Vêm eles até nós
Degolar vossos filhos, vossas mulheres
Tomado de cólera, ódio e rancor, persegui o responsável como um felino caçando a presa. Naquele momento, ele deixara de ser um humano. Reduzia-se a um alvo apenas, nada mais. Minha obsessão então fez de mim um facínora. Com a mesma vontade com que dei vida ao álbum, poderia acabar com a dele. Então, ao encontrá-lo, avancei sobre seu corpo, derrubei-o e desferi golpes em sua face. Eu soluçava, ele sangrara, e a festa acabara.
* * *
György Ligeti. Requiem. Segundo movimento: Kyrie.
A maldade está em todos os cantos e em cada aresta. Está por trás dos grandes hinos e das grandes revoluções. Reside nos grandes líderes e grandes gurus. Nos menores e insignificantes. Está em cada um de nós – até o mais fiel dos santos. Ela espreita a felicidade como as sombras perseguem a luz.
A maldade é perversa e sutil. É soberana porque é relativa. Ela muda de forma e de coloração. De objeto e significado. De eras a eras, de local a local. Transforma-se, para se conservar. E é precisamente por isso que é tão absoluta.
Sua perspicácia é tanta que faz alguns pensarem que ela não existe, por ser tudo uma questão de ponto de vista. Não percebem que é precisamente a relatividade que a faz absoluta. Por variar de forma e foco, pode ser específica, e assim pode estar em todos os lugares. A maldade para uns não é para outros. O que é maldade lá não é aqui. Mas aqui há maldade. A maldade aqui inverte a maldade de lá. Mas aqui há maldade. As pessoas então se perdem em suas variações formais, cegando-se à sua capacidade de assumir configurações específicas, reconhecidas em todas as línguas e culturas. Ela não é uma só. Mas está sempre presente. E sempre estará.
O quê! Tais multidões estrangeiras
Fariam a lei em nossos lares!
O quê! Estas falanges mercenárias
Arrasariam os nossos nobres guerreiros!
Grande Deus! Por mãos acorrentadas
Nossas frontes sob o jugo se curvariam
E déspotas vis tornar-se-iam
Os mestres de nossos destinos!
As pessoas furtam-se, desviam, fogem, fingem, desacreditam e resistem em não assumir. Mas a maldade reproduz-se com muito mais facilidade – e velocidade – que a bondade, a felicidade, ou outra fortuna qualquer. Assim como é mais fácil destruir do que construir, basta um ato de malícia para que se desencadeie todo um processo cumulativo de miséria, como um efeito dominó.
A destruição é mais fácil porque é irmã gêmea da entropia. Destruir é simplesmente favorecer o curso natural das coisas. Aquele que destrói tem ao seu lado o aliado da probabilidade. Como acender um fósforo em um armazém de pólvora. Já quem constrói tem contra si as tendências naturais. Assim, neutralizar a destruição e perpetuar a vida e a felicidade é criar ordem e harmonia onde impera o caos e a insignificância. O que exige muito trabalho. Consome muita energia. Produz lágrimas de esforço. Por isso são coisas tão improváveis. E portanto extremamente valiosas. E por isso a maldade e o caos reinam soberanos.
A maldade do Príncipe incitou e potencializou a minha. Ferido psicologicamente, reagi ferindo-o fisicamente. E poderia muito bem ter ido além. Estava errado. Tudo um grande erro.
É preciso pairar sobre as tendências ao caos. É preciso construir a paz e observar a destruição de longe. Construir quando possível, contemplar quando impossível. Manter-se às margens do devir. Pinçar as fagulhas de felicidade entre as nuvens de dor e sofrimento e cultivá-las com cuidado e ternura, como se fossem o último broto verde do planeta.
É, sim, preciso reconhecer esse fato fundamental. Não podemos nos refugiar em ficções de flores; fugir da realidade para o nosso mundo ideal. Subterfúgios são mentiras que cedo ou tarde sofrem o baque da realidade, decaindo facilmente em tormenta. A felicidade e a paz dependem precisamente da consciência de sua raridade. De que estão em uma tensão constante contra as tendências ao caos. De que podem degenerar em miséria a qualquer momento, se não estivermos atentos e vigilantes. É preciso reconhecer e lidar com a maldade, para evitá-la e atingir a felicidade que é possível a nós.
VII
A tragédia do aniversário foi meu primeiro grande contato com a obscuridade da natureza humana. Claro. Eu era jovem, jovem demais, e não era capaz de compreendê-lo. Mas já era extremamente sensível, sensível às coisas, e isso me marcou. Ali, de fato, morreria parte da ingenuidade infantil, e passaria a desenvolver-se uma profunda desconfiança das pessoas e da humanidade em geral. Associada, como que por ironia, a um profundo fascínio e vontade de viver.
Com o tempo, percebi que os relacionamentos humanos envolvem um dilema difícil de escapar – o “dilema do porco-espinho” – em que para ser feliz é necessário relacionar-se e criar vínculos, mas fazendo-o arriscamos nos ferir. Quanto mais se aproximam, mais se ferem. Mas por buscarem a felicidade precisam se aproximar, e assim se ferem.
A partir da desconfiança, desenvolvi grande dificuldade em abrir meu campo de intimidade, mesmo suas camadas mais exteriores. Passei a temer e a evitar o conflito, mas, ao evitar o risco, passei a evitar os próprios relacionamentos humanos. A aproximação intersubjetiva foi então se transformando num árduo processo de cálculo e observação do outro, para não invadir inadvertidamente o seu espaço e não abrir inadvertidamente o meu.
Mas é difícil manter uma comporta fechada quando há muito volume represado. Ao abrir da primeira aresta, o conteúdo irrompe violentamente, compensando todo o tempo de reclusão, extravasando toda a matéria acumulada. Assim, ao vislumbrar uma possibilidade de aproximação, meu Eu passou a abrir-se em demasia, mal calculando e exaltando o grau de confiança e intimidade estabelecido com o outro e assim arriscando-se perigosamente à frustração. Ao consumá-la, o Eu se fere e sua expansão excessiva é compensada com retraimento igualmente radical, reiniciando o ciclo e agravando o problema, até o isolamento completo.
Toda a dor que já gerei, mesmo a mais tácita, permanece latejando nos abismos da minha consciência. Nunca mais quero perpetuar tal legado. Especialmente quando ele acomete o espírito, muito mais grave que os ferimentos da carne.
VIII
Franz Liszt. Trois études de concert. Un sospiro.
Figurinhas e bombinhas eram puro deleite, mas caras. Especialmente as figurinhas, já que somos obrigados a comprar 95% de unidades repetidas para completar um álbum. (Daí o lucro da editora.) A empreitada torna-se mais complicada quanto menos popular o álbum, por haver menos gente com quem trocar. (Trocar figurinhas era quase um prazer em si mesmo…) Mas muito bem. Não ganhava mesada – a instabilidade da economia nacional não o permitia – então teria de garantir fontes de renda além da boa vontade da mamãe.
A primeira saída era fazer bicos. Como pintar o portão da garagem. Sua pintura branca descascara desde que alugamos a casa, e meus pais não tinham tempo para pintá-lo. E, cá entre nós, qualquer ameba sabe pintar um portão daqueles, pequeno e de grades finas. Então me prontifiquei (ou fui prontificado) a pintar o portão. As grades tinham forma espiral, como as hastes de um candelabro. A raspagem não foi assim fácil, entrando no meu top 20 das coisas mais chatas que já fiz. A pintura propriamente dita foi prazerosa e lembro-me com satisfação da imagem de uma das grades, a um palmo de distância dos meus olhos, coberta de um claro tom de tinta cor-de-rosa. Eu permanecia sobre a escada enquanto as pessoas passavam e me encaravam estarrecidas, fazendo meia Samonte fofocar sobre os absurdos a que eu era submetido. Bem, nunca entenderiam o poder das figurinhas.
A segunda saída era trabalhar na própria banca de figurinhas. Recebia o dinheiro, calculava o troco, devolvia o troco, fornecia os pacotes. Fácil. Eu adorava vender figurinhas! Claro, era ajudado pela vendedora – uma senhora em seus quarenta anos, sempre simpática e prestativa. Ao final da semana, ganhava um maço de pacotinhos, embalados em um elástico. Sim, eu me achava pra cima dos meus amigos por isso. Sim, eu era uma peste. Sim, mereci todas as dezenas de centenas de palmadas no bum bum.
A terceira era trabalhar na feirinha semanal. As coisas não iam bem e a empresa de informática não rendia lucros suficientes para pagar as contas. Então, minha mãe vendia pão e docinhos na feirinha. Era uma feira simpática, localizada na praça central, em frente à igreja. Eu ajudava na montagem e desmonte do estande, que era pequenino (como todos) e montado sobre vigas de alumínio (como todos). Os pães ficavam sobre uma chapa de madeira e um paninho branco. Os brigadeiros em uma bandeja de alumínio, em suas forminhas de papel laminado. Lembro-me inclusive dos pacotes dessas forminhas, guardados num dos armários da cozinha. E como era difícil comprá-los. E como era difícil comprar qualquer coisa, neste país de marajás. Desde então, ao ver uma fôrma de brigadeiro, lembro-me do sabor doce associado à feirinha e à imagem de minha mãe, de pé em frente ao balcão da cozinha, fabricando toda essa doçura. Eu me sentava no degrau que separava a copa da cozinha, e lá permanecia, observando-a fazendo os doces. Uma lembrança que me confere paz.
Nossos brigadeiros eram bons porque eram feitos de chocolate de verdade, não Toddy. Alguns dos estandes vendiam lembrancinhas, outros algodão-doce, outros peças artesanais, outros bijuterias, outros quinquilharias, outros mais quinquilharias.
Os pães e os brigadeiros da mamãe faziam sucesso. Éramos uma fabriqueta de pães e brigadeiros, além de uma empresa de informática. Elétrons fluindo por circuitos integrados, de um lado, e farinha e sal, de outro. Engraçado como são as coisas. Então, no fim do dia, subia na Enterprise, digo, no beliche, e contava meus lucros, nota por nota, absolutamente encantado. Um dia especial. E por isso dava-me a honra de subir no deque superior.
A última fonte alternativa de renda era vender chup chups. Um chup chup é o equivalente mineiro do “geladinho”. (Olhando retrospectivamente, o nome parece meio obsceno…)
Um chup chup é basicamente gelo, açúcar e aroma artificial de alguma fruta. Geralmente framboesa, morango, limão, tangerina ou groselha. Isto é, as crianças não deveriam comê-lo. Ainda assim, o de framboesa fazia o maior sucesso. Minha mãe ajudava na confecção. Meu trabalho era armazená-los e vendê-los. Nosso freezer era lotado de chup chups. Então, colocamos um aviso na parede externa de casa, para notificar a clientela. “Vende-se chup chups”. Provavelmente colocamos algum nome, do qual me esqueci.
O ciclo econômico era simples, não sendo necessário recorrer a Marx para entendê-lo. A água, o açúcar e o suco de fruta eram combinados e processados pelo trabalho humano, tornando-se chup chups. Um produto socialmente investido de valor. Os chup chups eram então permutados por dinheiro, por sua vez adquirido pelo comprador mediante a venda de trabalho de alguma espécie. Chup Chups transformavam-se em dinheiro. E meu dinheiro transformava-se em figurinhas. Ou bombinhas. Ou ambos. Cômico. Quase ingênuo. Mas é isso que move o mundo.
IX
Aos quatro anos, no Jardim de Infância, tive uma aula de fazer bola com chiclets. Foi pedido que trouxéssemos goma de mascar. (Grande exemplo, hein…) Ficamos todos em pé e fizemos um círculo. A professora então abocanhou o chiclets, amassou-o cerrando as mandíbulas, articulou as bochechas e soprou uma exuberante bola cor-de-vinho. A seguir, passou instruções para que repetíssemos sua obra de arte.
Talvez por já terem prática na matéria, aqueles próximos de mim começaram a soprar bolas de igual exuberância. Eu, por outro lado, conseguia contorcer e distorcer a goma e atribuir-lhe todas as formas possíveis, menos a de uma bola. Os bem-sucedidos então olhavam entre si, reconhecendo seu feito extraordinário e, assim, sua excelência humana. Então, olhavam os outros. E, assim, verdadeiramente sem qualquer malícia, sem qualquer intenção, reconheciam o seu fracasso.
De certa forma, os bem-sucedidos precisam dos mal sucedidos, da mesma forma que o belo precisa do feio. Os valores que nos definem são em última instância ideias que podem ser expressas na forma de substantivos e adjetivos. Seu significado, por sua vez, depende de oposições internas, como “cima” e “baixo”, “mais” e “menos”. Sem seu par opositor, o termo tomado em si mesmo perde todo o significado. Trata-se de uma lógica antitética, em que, para existir, o valor positivo de x depende do valor negativo de y. Lógica que é a própria lógica da linguagem – e sua díade, o pensamento.
Permanecendo humano, é impossível escapar dela. Se tudo for x, o valor de x desaparece, da mesma forma que o diamante não seria precioso se fosse comum como o ar.
Como consequência, superar a lógica antitética do pensamento é deixar de pensar. Superar a valorização e hierarquização das coisas é deixar de ter interesses. Superar a distinção nas emoções e sentimentos é deixar de sentir. Precisamente por isso, técnicas de autocontrole como a meditação simulam o desligamento da mente. Não mais nomear, interpretar, valorizar, distinguir, pensar, sentir. Só ser. Uma morte simbólica consciente. A superação da condição humana é, assim, a supressão de si.
Mas tal distanciamento implica o fim da sociedade e da individualidade, cujas existências dependem da distinção e dos valores. E os valores sempre nos trarão o “mais” e o “menos”. Glória e fracasso. Felicidade e tristeza. Trevas e luz.
Tal é nosso grande drama, nosso grande dilema.
Eu estava, pois, entre os “menos”. Claro. Havia outros. Na verdade, a maioria não sabia mascar adequadamente o chiclets. Mas a maioria sempre está na pior. Na melhor das hipóteses, a maioria é insignificante. E por isso teme-se tanto estar entre ela. Ser normal. Comum. Ordinário. Que grande piada! A maioria teme a maioria. Adicionemos então minha obsessão com a perfeição, e o resultado é previsível.
Joguei o chiclets no lixo e abandonei a sala, às lágrimas. Refugiei-me nos brinquedos do pátio, e mais tarde fugi da escola. De novo, a obsessão da infalibilidade.
X
Vejamos o que temos até aqui. Colecionando figurinhas eu já exprimia e moldava minha índole obsessivo-perfeccionista. O mesmo para o caso chiclets. Ela anda de mãos dadas com a observação, a curiosidade, a contemplação e a exploração. Lembra-se de Paloma? Do videocassete? Do trem? Isso tudo traz consequências…
Hoje abrigo milhares de imagens, centenas de filmes, centenas de animes, centenas de livros, milhares de músicas, milhares de documentos, milhões de memórias. Centenas e milhares de tudo. E não apenas por fetiche de colecionador. Busco um sistema cultural abrangente e harmônico, e quero que ele seja a lente para compreender toda a realidade. Quero fundir lazer e trabalho. Estilo de vida e ciência. Intuição e razão. Arte e lógica. Esta foi a saída encontrada pelo meu Eu para resolver as pressões internas e meu problema com as relações humanas.
É coisa demais. E coisa demais pesa. E peso demais sabota. Como nos chiclets.
Tal é o fardo do perfeccionismo e da sensibilidade extrema. Você percebe coisas demais. Detalhes demais. Você vê o ponto de chegada antes mesmo de partir. Você percebe os elementos em jogo, e toda a complexidade de condições e exigências que distinguem a excelência da mediocridade, o “mais” do “menos”. Transformando tudo isso em expectativa sobre si. Mas sem a perícia e o conhecimento prático à altura. Sabendo e esperando muito mais do que pode efetivamente realizar.
Assim, a busca pela perfeição – ou pela infalibilidade, se desejar – torna-se um peso impossível de carregar e sabota todo o ser. Paralisando por completo. Isso me ocorreu, pouco tempo atrás. E é disso que estou me libertando. E ao que esta autoanálise é tão essencial.
* * *









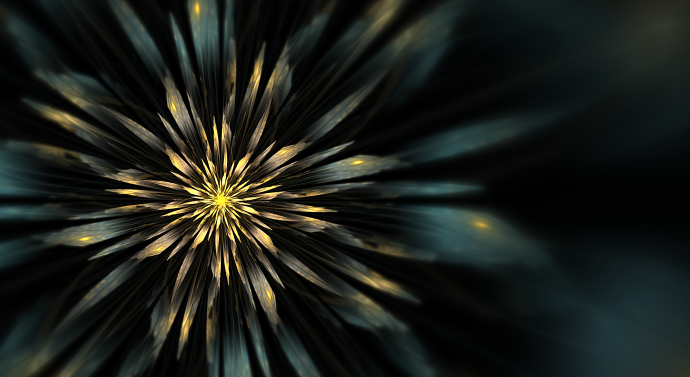




![Rembrandt - The Feast of Belshazzar [c. 1635]](https://zeocit.files.wordpress.com/2011/03/rembrandt-the-feast-of-belshazzar-c-1635.jpg?w=690)











